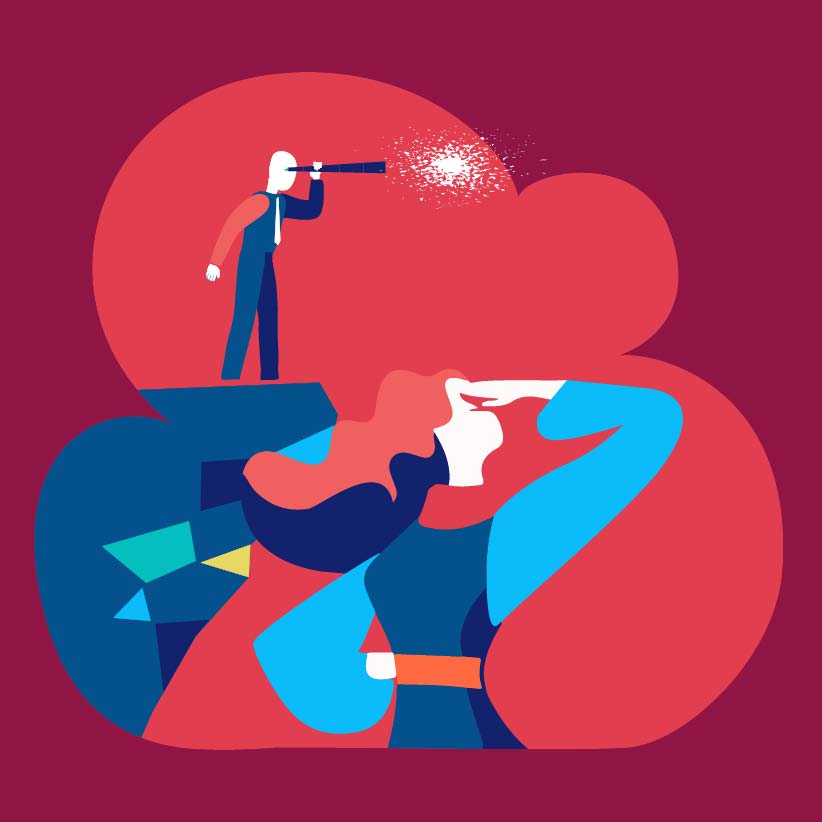As receitas no design de marca
Comentários a partir das opiniões sobre meu artigo «Toda marca debe ser…».
Seleção do Editor
Meu artigo anterior, Toda marca deve ser…, tem sido um dos que mais opiniões (e respostas) recebeu (na sua versão em espanhol). Evidentemente a retórica da paradoxa e da ironia é eficiente, já que coloca o dedo na ferida e motiva reações. Tendo em vista o sucesso, a utilizarei com mais frequência. Mas essa técnica também tem seus inconvenientes: nem todo mundo capta os duplos sentidos e, as vezes, as piadas têm que ser explicadas. Uma coisa é parodiar o pensamento simplista e outra é ser um simplório: alguns me viram como «elementar». Felizmente, a maioria dos opinantes parece ter captado o sentido de minha ironia.
Atendendo a essas respostas e, especialmente, àquelas que manifestaram reservas ou dúvidas, considero útil para todos, inclusive para mim, estender-me nas explicações. Naquele artigo creio haver deixado bem claro que o problema não está na norma mas em sua pretensa universalidade; pretensão manifesta na palavra «toda». Ou seja, afirmei que essas normas não são falsas, pois, em alguns casos constituem critérios válidos e tem que ser aplicados. Este aspecto parece não ter sido percebido por alguns leitores.
No universo amplíssimo das marcas corporativas (e, desnecessário dizer, no das marcas gráficas em geral) torna-se absolutamente impossível (além de absurdo) buscar uma norma geral. Ao menos é válida a suposta universalidade da necessidade da marca gráfica: existem entidades que não a possuem, não a necessitam e seria grave inventar uma.
De qualquer forma, convém deixar claro que o questionamento daquelas normas tornarem-se dogmas não deve conduzir à ideia, igualmente errônea, de que o design de uma marca gráfica está livre de condicionamentos e que o designer pode fazer o que bem entender: uma marca não é qualquer coisa.
A convicção de que no design de marcas gráficas não existem normas de aplicação universal não deve associar-se a uma reivindicação da indeterminação nem da «liberdade criativa». Aquela convicção surge da análise do campo exaustivo das marcas gráficas, ou seja, das marcas da totalidade de setores que as utilizam.
Ainda descartando as marcas de produtos e serviços, e nos restringindo às marcas corporativas e institucionais, dito universo é de uma heterogeneidade imensa e requer, consequentemente, marcas de diferentes tipos: são diversos os requerimentos específicos de cada setor e, inclusive, de cada entidade individual.
Para dar um exemplo flagrante: um país que se chama República Dominicana não pode ter uma marca do mesmo tipo que outro que se chama Cuba. Ambos necessitam uma marca-país. Seus perfis e condições de comunicação são muito semelhantes; mas um tem seu nome com dezenove letras e o outro com apenas quatro. No primeiro, a necessidade de um símbolo é indiscutível, enquanto que o segundo poderia se limitar, se conveniente for, a usar apenas um logotipo com fundo.
Normalmente, a tendência de reivindicar algum tipo de requerimento universal - por exemplo, a síntese - provém de que a área considerada limitou-se a certos critérios e determinados setores, onde sim é pertinente tal requisito. Ou seja, que a análise da área não foi satisfatória.
Se a análise incluísse, por exemplo, o setor de moda, a exigência de síntese praticamente desapareceria. Vejamos: Ermenegildo Zegna, Adolfo Domínguez, Marithé e Francois Girbaud… Os exemplos sobram. Mudando de setor, a exigência de síntese, que é alta em um banco comercial, desaparece em um banco central; legitimamente, este último poderia ter um logotipo extenso e um símbolo complexo.
O que então deve, exatamente,respeitar toda marca gráfica? Para fechar o artigo, eu dizia que tais condicionamentos provêm de duas fontes: o perfil da identidade e as condições em que emitirá suas mensagens visuais. Não custa lembrar: toda marca (aqui «toda» é totalmente válido) deve ser fiel à identidade do marcado e ao modo em que será transmitida.
Ou seja, a marca não deve «desidentificar» à entidade, não deve tornar-se gratuita, caprichosa, artificial, absurda, mas «naturalizar-se» o mais breve possível e aparecer como «a única forma de identificar o sujeito». Aquele signo, que sempre nascerá com algum grau de aleatoriedade (sua forma nunca será «científica») deve tornar-se, o mais rápido possível, inopinável e imelhorável. Isso alimentará a acumulação de capital da marca registrada. Basta olhar a realidade para verificar este fato.
E esse perfil deve ser entendido, mais que «identidade», como «personalidade» ou «caráter». São as fisionomias tipológicas e estilísticas (como nas pessoas) os que conotam a identidade. Somente em um segundo plano poderão aparecer referências semânticas, se é que estas sejam necessárias (geralmente, não são). Ser fiel à identidade não é sinônimo de «narrá-la». Uma daquelas crenças errôneas é, precisamente, o a priori da narratividade obrigatória.
As prostitutas (nobre ofício que mereceria maior respeito) se identificam publicamente mediante uma série de estilos de conduta, de indumentária e de cosmética que evitam qualquer equívoco. Nenhuma delas leva no peito um letreiro «sou puta» (trato de ser claro). A identidade é mais questão de retórica que de semântica.
A segunda fonte de condicionamentos eram as condições de emissão. A marca deve ter excelente desempenho funcional; mas esta exigência de rendimento não é idêntica em todos os casos. Igual ao perfil, esse rendimento depende de cada entidade concreta. Umas devem vociferar, outras falar em voz baixa. Umas devem poder ser lidas em alta velocidade, outras com todo o tempo do mundo. Umas devem se agarrar à retina social de primeira, em outras tanto faz se são lembradas ou não. Umas devem ser insólitas, outras absolutamente convencionais. O segredo está em saber em qual caso se encaixa cada cliente.
Em suma, o oposto ao dogma a priori não é a liberdade plena mas o reconhecimento e respeito das reais condicionantes específicas de cada caso. «Não existem doenças mas doentes»; e o medicamento que salva uns pode matar outros. O dogmatismo é fruto da preguiça intelectual que, em vez tomar o trabalho de conhecer minunciosamente o paciente - que é individual e irrepetível - e oferecer-lhe um tratamento adequado, prescreve uma droga estândar... E que entre o próximo!
Entre os comentários recebidos sobre aquele artigo, outro merece uma atenção especial: o interrogante sobre a origem daquelas doze «normas»: de onde as tirou? E lhe responderei, pois o assunto também dá o que falar. Qualquer profissional experiente ficará incomodado em ter que dar explicações tão óbvias; e isso aparece em alguns dos comentários dos leitores. Mas a realidade prova que não são tão óbvias assim. Essas falsas normas universais não fui eu quem as inventei para «provocar» ninguém. Venho escutando tudo isso durante décadas da boca de estudantes, profissionais, dos próprios clientes e - o que é pior - de docentes. Ou seja, não é correto dizer que todo mundo sabe que estas normas não são de aplicação inegável.
Por outro lado, somente reproduzi as mais corriqueira: existem muitos mais mitos. E, para comprovar, bastará sair à rua e ver a exuberante quantidade de marcas defeituosas, fruto daquelas crenças e que saíram das mãos de designers. Nestes erros não só incorrem pequenos negócios de bairro como, inclusive, em multinacionais atendidas por empresas de design corporativo que se autopromovem como lideres em branding. Ou seja, a crítica está plenamente justificada.
Felizmente, fica claro que nem todos os designers praticam esse tipo de pensamento elementar. Existem profissionais - experientes e jovens - com portfólios praticamente sem erros. E isso se deve ao domínio que exercem sobre o tipológico e o estilístico, e sabem administrá-lo sabiamente em cada caso. Por isso, seu trabalho tem o aspecto de vários autores: não existem maneirismos nem fórmulas, nem - muito menos - estilo pessoal.
Mas o risco das receitas (sem falar dos modismos) é altíssimo. Há alguns anos um designer me mostrou seu extenso portfólio de marcas, todas de excelente qualidade gráfica. Ali havia todo o tipo de cliente: instituições públicas, empresas industriais, produtos de consumo, redes comerciais, associações profissionais. Apesar disso, absolutamente todas as marcas correspondiam a um único modelo: o típico símbolo icônico somado ao logotipo. Eu o parabenizei pela qualidade e lhe perguntei qual o motivo para dar a mesma solução tipológica a todas. Sem titubear, com uma segurança absoluta, como quem é dono da verdade, me espetou: «O símbolo é indispensável já que permite uma leitura mais rápida que o logotipo». Ficou cheio de si, convencido de que havia me ensinado algo. Diplomaticamente, agradeci sua apresentação. Mas pensei com meus botões: «E quem ensinou a você que a velocidade é um requisito universal e que todo logotipo é lento?».
Um adulto que proclama sem pudor um disparate como aquele não pode ser contrariado. Eu escrevo, basicamente, para os estudantes. Tento, entre outras coisas, adverti-los dos riscos das receitas prontas. Ao contrário, para aqueles profissionais que já têm cristalizado certas crenças que lhes dão segurança e lhes economizam o esforço de pensar, não existe conselho que lhes ajude nem realidade que lhes abra os olhos: sempre verão o que decidiram ver antes de olhar.
Excelência Profissional
Se você busca conteúdos com esse nível de rigor, vai se interessar pela nossa oferta acadêmica. Cursos desenhados para atender às exigências reais da profissão.
Ver Oferta AcadêmicaCompartilhar
Por favor, valorize o trabalho editorial usando esses links em vez de reproduzir este conteúdo em outro site.

Temas abordados neste artigo
O que você acha?
Sua perspectiva é valiosa. Compartilhe sua opinião com a comunidade na discussão.
Dê sua opinião agora!